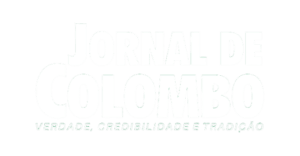A ideia transmitida pela máxima “conheça a verdade e ela vos libertará”, repetida à exaustão na história (inclusive em contextos não-cristãos), ganha incisivas camadas de provocação nos diálogos escritos por Kandiero em O Bispo Negro: os “homens bons” e a santa eugenia curitibana. As familiares palavras, como encontradas no evangelho de João, trazem conceitos caríssimos à filosofia (de toda a humanidade). Afinal, o que é conhecer? Ou, o que é a verdade? E o que significa essa libertação?
São muitas perguntas e, mesmo quando sem respostas, elas são capazes de revelar muito sobre os interlocutores. Assim, as interrogações colocadas no livro, direta ou indiretamente, evocam camadas socráticas e deliciosamente cínicas. O questionamento é uma ferramenta utilizada com maestria tanto nas falas do personagem-título, quanto na experiência que o autor nos propõe com o formato do texto, marcando o uso da “técnica do diálogo de Platão”, como bem pontuou Paulo Venturelli no prefácio. A astúcia na escolha por esse “formato”, então, inicia um difícil processo de maiêutica com a branquitude da Curitiba contemporânea, que (ainda!) tenta defender uma posição de inocência, enquanto convenientemente usufrui dos privilégios e se nega a reconhecer as heranças amargas da santa eugenia.
O que faz o texto de Kandiero é mais do que escancarar fatos: é a demonstração de potência da própria filosofia como instrumento de questionamento da realidade que nos cerca. E quando a curiosidade aguça o olhar, notamos que nada na história simplesmente é: o presente é sempre consequência. É preciso desnormalizar o olhar e assumir que não há neutralidade, nem nas imagens do mundo, nem em quem observa ou age.
As palavras, assim como outros símbolos, tiveram cor, gênero e classe em diversos momentos, daí a necessidade de verificar a autoria e os porquês das coisas. Dito isso, o discurso paranista e O Bispo Negro também não partem de um lugar de neutralidade científica e acadêmica (ainda que esta seja uma das máscaras do primeiro). Quem escreve, quem lê, quem profere, quem ouve, tudo isso importa. E foi por tudo isso que, diante da proposta de resenhar o livro, acabei em um xadrez filosófico no qual O Bispo Negro já havia armado o xeque, sobretudo porque foi a ignorância que guiou meu interesse pelo livro.
Conheci Kandiero, por um acaso do destino, em um dia de pensamentos nublados. Dividimos um estande em uma feira, então pude passar uma manhã e uma tarde observando as publicações da Editora Humaitá e conversando com o mestre. Ao final do dia, pedi a recomendação de uma obra que apresentasse mais informações sobre a história de Curitiba ou que fosse focada nisso. Foi-me recomendado um livro que já havia despertado meu interesse há alguns meses, quando li sobre o lançamento de O Bispo Negro.
Para quem é tão orgulhosamente agnóstica, esse dia foi no mínimo peculiar, daí a contradição acaso do destino parecer tão adequada. Li O Bispo Negro como uma forasteira e como migrante, como alguém que vem de perto e de longe, com sua própria bagagem e ciente da própria ignorância. Li também como filósofa, artista e pesquisadora, mas também como pessoa branca, como herdeira ingrata da santa eugenia gaúcha, interessada em entender o desenvolvimento histórico das diversas culturas que formaram o povo paranaense. E isso muda tudo, inclusive a leitura e tudo que penso a partir dela.
Eu já vivia há mais de uma década entre o norte e o nordeste quando resolvi voltar para o sul. A proximidade geográfica com a minha terra natal me deu a falsa confiança de que entenderia mais facilmente a cultura paranaense. Curitiba, porém, parecia ser uma cidade que não queria ser lida e, para as muitas perguntas, encontrei poucas respostas (estas, por sua vez, costumavam multiplicar as dúvidas). Durante mais de dois anos, perguntei para várias pessoas, de diversos meios, sobre a história da cidade, sobre monumentos, praças, feiras, origens, símbolos, danças, costumes, festejos, mas a maioria das pessoas sequer tinham se questionado sobre essas coisas. Os artigos e páginas oficiais dos governos locais também trazem poucas informações, enquanto o Memorial de Curitiba, com seus enormes painéis repletos de textos, parecia esconder muitas coisas.
Já é (ou deveria ser) óbvio o entendimento de que o colonialismo e outros agentes de um Brasil inúmeras vezes eugenista criaram um enorme e irreversível apagamento de documentos e evidências de passados distantes e recentes. Hoje, efetuar qualquer pesquisa histórica segue sendo um desafio, sobretudo quando todas as exigidas “evidências concretas” simplesmente não existem… ou pelo menos é o que entende e pensa um certo academicismo, que desconsidera as experiências da “escrevivência e oralitura”, apontadas por Luis Felipe Leprevost no primeiro texto do livro.
Em outros tempos, de submissão à ABNT, eu teria visto com maus olhos a falta de notas de rodapé que “provassem” os fatos históricos expostos pelo Bispo. Ainda que esse tipo de pensamento possa ser ingênuo, no sentido de unicamente querer buscar “consistência científica” nas palavras do personagem, seria apenas mais uma prova do quão profundas são as raízes do colonialismo e do racismo estrutural que se seguiu às invasões européias. As pessoas são provas vivas que o academicismo se recusa a reconhecer e (ainda pior!) trabalha para embrutecer.
Para mim, todo um universo de conhecimento já havia sido destruído, sobretudo pelo contato com os pensamentos de Ailton Krenak e Davi Kopenawa Yanomami. Quando li O Bispo Negro, já me sentia parte da ágora, entendendo que ali se desenrolava parte necessária da história. Durante toda a leitura, é impossível segurar a vontade de viver esse diálogo, no presente, dentro da igreja citada, com os personagens todos presentes: a Curitiba de hoje precisa conhecer a si mesma.
Aline Reis é necessariamente incisiva ao dizer que “quando a branquitude entende o privilégio de ser branco em uma sociedade racista isso dói”. É verdade. Dói crescer acreditando nas mentiras dos livros de história, acreditando em falsos cientistas, artistas, filósofos e toda sorte de pessoas que eram consideradas como gênios e referências; e um dia descobrir que todo o edifício do seu conhecimento foi erguido sobre alicerces falsos. Dói buscar a própria ancestralidade e descobrir que seus avós ou os avós dos seus avós eram escravagistas. Dói ainda mais quando cai a ficha de que não era mérito, era privilégio. O que aconteceu, não pode ser mudado, mas as ações de seguir ocultando e distorcendo a história são indícios óbvios de interesses escusos.
Acontece que o racismo estrutural brasileiro que temos hoje, como consequência de um sistema escravagista a nível industrial, não foi criado por pessoas negras — o antirracismo precisa atingir também os herdeiros (e beneficiários) da santa eugenia (e não apenas a curitibana!). Robson José Custódio, assim como a figura do Bispo, chamam a atenção para essa imagem de uma “branquitude que fecha os olhos e se nega a enxergar a problemática”, o que não é apenas uma figura poética, mas uma realidade cruel. É um não-saber que embrutece e anula até mesmo a possibilidade de cogitar que outras visões do mundo e dos acontecimentos são possíveis.
Nesse sentido, a branquitude está despreparada para o niilismo que vem após a derrubada todos os falsos pilares de suas crenças: há pouca verdade no discurso da “santa eugenia” e é com simplicidade que O Bispo Negro expõe as fantasias que ajudaram a criar o imaginário despersonalizado da “cidade mais inteligente do mundo”.
Voltando ao discurso platônico, vale lembrar que a saída da caverna não é descrita como uma experiência de prazer imediato: é preciso reconhecer que passamos uma vida inteira cultuando sombras — ver a luz pela primeira vez dói e nos cega por alguns segundos. Esse apego às semelhanças com a cultura grega é uma herança da cultura acadêmica brasileira de filosofia, profundamente eurocêntrica e que, em sala de aula, costuma “esquecer” de apontar a eugenia explícita nos discursos de Aristóteles, por exemplo. Aprendemos, em universidades de norte a sul, que toda a filosofia nasce (quase que espontaneamente!) na Grécia, tendo sua máxima expressão em língua alemã. Não foram raras as vezes que ouvi a afirmação de que não existe uma filosofia brasileira. Felizmente já surgem mudanças nesses ambientes, mas é tardio, pontual e ainda é uma luta decolonizar o discurso acadêmico brasileiro.
Minha trajetória como estudante foi raríssimas vezes transpassada por discursos que trouxessem pensamentos não-europeus ou não-estadunidenses. Ainda mais raro seria ver a história e a filosofia dos povos originários das américas e dos povos africanos escravizados, que tanto influenciaram nosso pensamento. Robson José Custódio pontua o desconforto que senti como estudante e, novamente, como forasteira em Curitiba: a África é o local de origem de inúmeras culturas, mas insistentemente retratada como “microscópica”. É uma incongruência, uma contradição lógica (sobretudo no contexto filosófico) aceitar que a civilização que esteve no centro das maiores descobertas da humanidade mereça apenas algumas notas de rodapé na história do pensamento humano.
O livro de Kandiero desvela a história que o paranismo insiste em tentar apagar, mas escancara na estética de uma cidade que tem seus espaços constantemente pensados e manipulados. Nas mãos de um leitor curioso, O Bispo Negro é um convite para ampliar a pesquisa, no sentido de entender o Paraná como uma das amostras da “ideologia do branqueamento”, apontada por Lélia Gonzalez como uma forma mais sofisticada de racismo, que se desenvolve especialmente na chamada América Latina.
Nas condições de forasteira e secular, me foi especialmente valioso ter os ensinamentos pela voz de um bispo. É curioso, por exemplo, que sempre foram claros os paralelos entre Cristo e Sócrates, mas pouco se fala sobre a influência que ambos tiveram da cultura egípcia. É impressionante notar também as aproximações e distanciamentos entre as filosofias gregas e/ou cristãs e a filosofia ubuntu, sendo que a última sequer é citada na maioria dos livros de história do pensamento filosófico. Todo um universo se desvelou e, com isso, vão-se novamente mais algumas das bases de um conhecimento construído sobre inverdades e omissões.
O entendimento do racismo como “estrutural” significa aceitar que muitos de nós fomos (e ainda somos!) formados por “gênios”, professores, familiares, imagens midiáticas etc, que, apesar de algumas mudanças pontuais, continuam sendo guiados por conceitos enraizados por uma colonização eugenista em sua essência… É patético que sequer sejamos capazes de detectar isso nos códigos que nos rodeiam.
No decorrer do diálogo, o Bispo dá um salto essencial no convite para que a branquitude pare de fingir invisibilidade. Há uma diferença entre não saber a verdade e a ignorar propositalmente. Pior ainda, seria esconder as verdades. A ignorância dá o direito à certa inocência: não corrigimos algo se não sabemos que é errado. Saber e escolher fazer vistas grossas ou ajudar a ocultar e apagar, é um processo ativo, que envolve deliberação, ou seja, é doloso, não culposo. E é aí que toda uma identidade construída sobre pinhões, capivaras e petit-pavés começa a se revelar frágil. A parte difícil de assumir é que as estruturas ainda propagam ativamente símbolos e ideais eugenistas.
O Bispo Negro: os “homens bons” e a santa eugenia curitibana é daqueles livros que mudam para sempre as lentes com que vemos o que nos rodeia e convoca a rejeitar a passividade diante das imagens do mundo. É o tipo de leitura que propõe caminhos irreversíveis: uma vez lido, a cidade nunca mais poderá ser vista da mesma maneira.